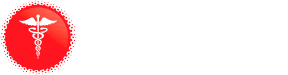Existe método cognitivo válido para adquirir conhecimento?

A inteligência humana é a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento conceitual na resolução de problemas. Ela é dinâmica, pois se constitui como uma potencialidade que pode estar em constante expansão, resultante da integração cognitiva volitiva e progressiva do conhecimento conceitual prévio e recém adquirido. Em outras palavras, quanto mais você aprende, mais inteligente se torna — porque sua capacidade de pensar, julgar e resolver problemas se amplia junto com a estrutura conceitual que sustenta essa inteligência.
A inteligência humana possui dois componentes principais: o inato, biológico, e outro adquirido e desenvolvido ao longo da vida. A inteligência do indivíduo é o resultado da interação entre o potencial inato e o desenvolvido adquirido.
Poderíamos afirmar que uma criança superdotada com potencial de inteligência muito acima da média mas que após a alfabetização primária parou de adquirir conhecimento não será mais inteligente que um adulto que continuou, ao longo da vida, adquirindo conhecimento mesmo que sua capacidade de adquirir conhecimento seja abaixo da média. O “combustível” da inteligência humana é o conhecimento adquirido. O conhecimento é a matéria-prima que a inteligência utiliza para operar.
O que seria conhecimento? Historicamente, toda ciência, a matemática, a física, a biologia, a política, a medicina e etc…, florescem após uma fundamentação filosófica, da metafísica, o que é a realidade, e da epistemológica, como adquirir conhecimento, ao descobrir conceitos fundamentais, para que fosse possível o desenvolvimento das ciências especiais como autônomas em conteúdos específicos, por isso devemos buscar na filosofia a pergunta o que é conhecimento.
Dentro da filosofia clássica, Platão (428 a 348 a.C) define conhecimento como uma crença verdadeira justificada (doxa alethés meta logou). Já para Aristóteles (384 a 322 a.C.) o conhecimento (episteme) é a posse demonstrativa de uma verdade necessária e universal, obtida por meio da razão a partir da experiência sensível, estruturada segundo os princípios da lógica.
Em comum, tanto Platão como Aristóteles definem conhecimento com algo diferente de opinião por ser verdadeiro e seguro, enquanto opinião poderia ser falso ou incerto, o conhecimento deveria corresponder à realidade por uma justificativa racional, ou seja, não basta acreditar, é necessário ter uma justificação ou razão sólida para uma ideia ser considerada conhecimento, ela deve ser universal e necessária, não apenas casual.
No entanto, existem pontos divergentes e fundamentais entre Platão e Aristóteles, em relação a origem e o método de como adquirir conhecimento. Para Platão a origem do conhecimento vem da alma e sua reminiscência das ideias eternas, inatas, das formas perfeitas, que existem em um mundo inteligível, separado da realidade sensível, para ele o mundo sensível é fonte de erro e ilusão, apenas gera opinião (doxa) e a dialética seria o método válido de adquirir conhecimento, uma ascensão da alma do mundo sensível ao mundo das ideias, por meio de definições e divisões racionais.
Em contrapartida, para Aristóteles o conhecimento vem da experiência sensível , do concreto, composto de matéria e forma, presente neste mundo real, para Aristóteles não há dois mundos, o mundo sensível é o ponto de partida legítimo para o conhecimento, desde que interpretado pela razão, a lógica demonstrativa (silogismo), a partir de experiências concretas e princípios evidentes, seria um método válido de adquirir conhecimento.
Portanto, existem duas formas clássicas de conhecimento: a platônica, supernaturalista, racionalista e idealista, e a aristotélica, naturalista, empirista e realista. Essas duas formas de epistemologia influenciam até hoje a nossa forma cognitiva de aprendizado, no entanto, elas tiveram pesos e consequências diferentes na história da humanidade.
Na epistemologia platônica o conhecimento verdadeiro ligado ao mundo das Ideias (ou formas) leva o dualismo ontológico, há dois mundos, o sensível (mundo físico), sujeito à mudança e engano e o inteligível (mundo das Ideias), eterno, imutável e verdadeiro e o conhecimento como reminiscência “a alma já conhece as ideias antes de encarnar”. O valor da razão é o acesso ao conhecimento verdadeiro, aprender é recordar (anamnese), pois os sentidos enganam, ex: saber o que é “justiça” não vem da experiência empírica, mas da contemplação racional da Ideia de justiça.
Individualmente, o platonismo, leva a crença e ideologia, já que o critério de verdade é uma ideia, que não vem da realidade concreta por isso não pode ser verificada, em consequência, vence a autoridade e não a realidade. Por isso se torna uma narrativa de premissas dogmáticas, que rejeitam ou distorcem evidências concretas contrárias. Torna-se presa fácil de manipulação política, midiática ou religiosa. Viver por ideologia é viver em uma prisão invisível, traz conforto temporário, mas não o torna mais inteligente, ao contrário. Foi na idade média (476 -1453 d.C.) que a epistemologia platônica teve maior influência, conceitos humanos importantes como justiça e liberdade eram dissociados da realidade humana, a fome e a doença era a regra. Existia uma decadência urbana nas cidades europeias, centros de comércio e cultura, se esvaziaram. A violência era comum e a vida era considerada “curta, brutal e difícil”.’
Na epistemologia Aristotélica o conhecimento é adquirido a partir da experiência sensível, só existe o mundo sensível, que é passível de ser conhecido. O intelecto, através da razão, abstrai as formas universais, e a partir da experiência dos particulares e os sentidos fornecem os dados e que a razão organiza e compreende. A lei da não-contradição, formulada por Aristóteles, é a base de todo o pensamento lógico e racional, ela afirma que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, em outras palavras, é impossível que uma proposição seja verdadeira e falsa simultaneamente, pois sem ela, a comunicação e o próprio conhecimento seriam impossíveis. Se uma coisa pudesse ser e não ser ao mesmo tempo, qualquer afirmação perderia seu sentido. A linguagem, a ciência e até mesmo nossa percepção da realidade se baseiam na suposição de que as coisas têm uma identidade definida, não contraditória. Ela é tão fundamental que, para Aristóteles, nem mesmo um cético pode negá-la, pois ao tentar provar que a lei não é verdadeira, ele precisa usar a própria lei da não-contradição para estruturar seu argumento. Conhecer o que é “justiça” vem da observação de muitos atos justos e da abstração do conceito geral. Foi na Idade moderna que se estendeu do século XV ao século XVIII, que a epistemologia Aristotélica foi mais predominante, culminou na Europa com o iluminismo (no século XVIII), “Século das Luzes”, a razão como principal ferramenta para o progresso humano. Pensadores iluministas, como Voltaire, Montesquieu e Locke, questionaram a estrutura social e política da época, defendendo ideias como, liberdade e igualdade de direitos, divisão dos poderes políticos (executivo, legislativo e judiciário), tolerância religiosa e a busca pelo conhecimento científico. O Iluminismo foi o ápice filosófico e intelectual da Idade Moderna em contraste com decadência medieval da idade das trevas.
A diferença entre viver por crenças e ideologias em comparação com a lógica e o conhecimento, é marcante e decisiva para a autoestima, felicidade, capacidade crítica e resolução de problemas humanos. Para o individuo usar a razão como meio de adquirir conhecimento é aceitar mudar de opinião diante de novos fatos, um processo contínuo de aprendizado, desafiando o intelecto, ao contrário da prisão invisível do dogmatismo. A ideologia dá conforto, mas o conhecimento liberta. A ideologia cria certezas, o conhecimento cria clareza. O individuo que aceita a realidade sensível como fonte de conhecimento vive em estado de liberdade crescente, assume a responsabilidade por pensar, duvidar, corrigir e crescer. Não segue ideias sem razão pois as investiga. Não se submete a líderes — examina argumentos. Não teme a verdade — a deseja, mesmo que doa temporariamente.
Existe ainda, uma terceira maneira epistemológica com diferenças fundamentais de Platão e Aristóteles inaugurada por Immanuel Kant (22 /04/ 1724 a 12/02/ 1804) que na sua essência persiste até os adias atuais com a denominação de filosofia pós-moderna (metade do século XX), movimento que questiona e desafia os fundamentos da filosofia clássica e moderna. Em vez de ser uma corrente filosófica unificada, é um conjunto de pensamentos diversos que têm como ponto em comum a crítica à modernidade. Kant na sua “revolução copernicana” afirma que não conhecemos a realidade “em si” (noumeno), mas apenas a realidade tal como aparece para nós (fenômeno), pois ela é moldada pelas estruturas mentais e categorias do entendimento humano, declarando impossível a validade do conhecimento objetivo, todo o conhecimento seria subjetivo, sendo o papel da nossa consciência “construir”, esta é a semente para uma filosofia fenomenológica, cética e desconstrutiva, pois a realidade é entendida como uma construção discursiva e não verdadeira.
A epistemologia de Kant separa razão teórica e prática criando uma fissura entre “fatos” e “valores” com isso não haveria fundamento objetivo para valores morais ou interpretações históricas, isto abriu caminho para inauguração da filosofia pós-moderna, com filósofos como Foucault, Derrida, Lyotard, entre outros ao afirmarem que verdades e valores estão sempre imersos em relações de poder e linguagens, não em fundamentos universais, sendo o conhecimento algo ilegítimo, com isto, se acentua o relativismo e o pluralismo da realidade.
O pós-modernismo ao negar a capacidade humana racional, se utiliza de narrativas contraditórias para “construção da verdade“, ao contrário da epistemologia clássica que é a descoberta da verdade. A realidade é tratada como construção social e linguística, não há obrigação de manter coerência lógica — desde que a narrativa sirva ao propósito de desconstruir ou questionar uma “metanarrativa dominante”, indo contra a Lei da Não Contradição como princípio universal, substituindo-a por um jogo de interpretações múltiplas. Isso pode acontecer de forma consciente (manipulação deliberada) ou inconsciente (confusão mental ou doutrinamento).
Quando de forma consciente, o uso de narrativas contraditórias, se transforma em um arma contra discursos estabelecidos, podem confundir o adversário, tornando impossível refutar o argumento por completo, permitem adaptar o discurso a diferentes públicos, dizendo coisas opostas conforme a conveniência, criam uma “imunidade argumentativa” — se você aponta a contradição, o pós-moderno pode dizer que isso é exatamente a prova da multiplicidade e da subjetividade do sentido, a incoerência é validado como aceitável. As contradições repetidas são utilizadas como ataques psicológicos podendo gerar fadiga cognitiva: o interlocutor gasta energia tentando resolver algo que foi projetado para não ter solução, confundir para dominar. “Censuramos para proteger a liberdade” – a contradição faz com que a violação se apresente como virtude, permite justificar qualquer ato como coerente com o oposto dele. Legitima práticas injustas sob o argumento de “respeitar a cultura” (mesmo quando violam direitos humanos básicos).
As evidências são claras o modernismo racional, fruto da epistemologia aristotélica, herdeiro do Iluminismo, permite o conhecimento para tecnologia, medicina, engenharia, e a política para a liberdade, felicidade e a dignidade humana, ou seja, gera conhecimento para o ser humano viver melhor, já o pós-modernismo, irracional, descontrói o conhecimento, o substituindo por “opinião cultural” e “jogo de poder”, abrindo caminho para o coletivismo e o autoritarismo. Quando a razão deixa de ser o árbitro do individuo, não é mais a inteligência que guia as ações humanas e sim o uso da força, em consequência as relações humanas se tornam autodestrutivas.
Autor: Rafael Higashi, médico (52.74345-3), mestre em medicina, neurologista (RQE: 13728) e nutrólogo (RQE:19627) da Clínica Higashi Rio de Janeiro.